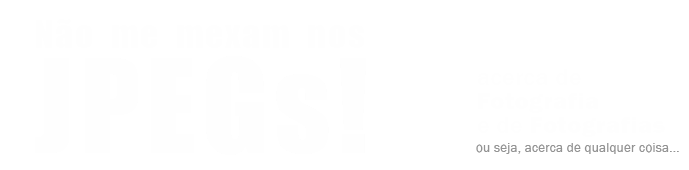Quando Henry Cole decidiu, no Outono de 1843, pressionado pelo seus múltiplos afazeres e pela decorrente incapacidade de escrever uma missiva de Natal personalizada a todos os seus conhecidos (conforme era esperado de um cavalheiro inglês), mandar imprimir cartões com imagens alusiva à quadra, estava longe de saber que, com este pequeno facto da sua vida, iria ficar marcado para a História como o Homem que inventou o Postal de Natal.
 |
Lock& & Whitfield, Henry Cole, cerca de 1877
|
 |
O primeiro Postal de Natal,
desenho de John Calcott Horsley
por encomenda de Henry Cole,
1843
imagem obtida aqui
|
Pode-se pensar que há algo de irónico nesta associação a uma criação que parece um hino à preguiça (o postal de Boas Festas do século XIX era algo como as actuais mensagens SMS e os
memes de facebook, pré-elaborados e iguais, que milhões de pessoas insistem em trocar si, no Natal e Ano Novo) quando, analisada a sua vida e a sua obra, se verifica que Henry Cole seria tudo menos alguém que divinizava o ócio. Mas, na realidade, a invenção do Postal de Natal que lhe é atribuída revela verdadeiramente uma faceta marcante da sua personalidade - a capacidade de cumprir objectivos e de realizar tarefas, independentemente das dificuldades, e nem sempre da forma mais convencional. Na casa dos seus vinte anos encabeçou uma campanha visando a melhoria das condições dos arquivos do governo britânico, onde trabalhava desde a adolescência, não hesitando em apresentar publicamente uma das muitas ratazanas que povoavam esses serviços. Enquanto comissário da Grande exposição de Londres, de 1851, pressionado pelos prazos curtíssimos, atribuiu o projecto não a um arquitecto com devaneios neopaladianos ou neogóticos, mas a um construtor de estufas relativamente desconhecido, Joseph Paxton, que concluiu a tempo um fabuloso e monumental edifício de vidro e aço – o Palácio de Cristal, objecto fundador duma nova estética arquitectónica industrial.
Cole era um verdadeiro rolo compressor quando se tratava de ultrapassar obstáculos, contornar problemas, fazer o que parecia impossível. Diz-se que entre a família real britânica ( a sua figura é fortemente associada ao príncipe consorte Albert, esposo da Rainha Victoria, patrono das artes e defensor da educação artística) corria um adágio que, fazendo um trocadilho ente Cole e coal (carvão), afirmava “ If you want steam, you must have Cole”. Tendo em conta que se estava na Era da máquina a vapor, e traduzindo de forma não literal (e atabalhoada como é meu hábito), temos algo como “ Se queres energia, tens de ter o Cole”. Henry Cole era o homem que punha as coisas a andar, por mais pesadas que fossem, e as fazia acontecer.
Henry Cole, embora não seja um dos nomes mais populares quando se vai buscar algo ao baú oitocentista da Cultura e das Artes para impressionar, é uma das personalidades mais notáveis do período e a sua acção marcará profundamente a cultura erudita e popular, o ensino e a divulgação das artes e desenvolvimento da indústria. Associou a sua formação artística a uma longa carreira de servidor público (iniciada, como vimos, com uma árdua defesa dos Arquivos britânicos), a sua faceta de editor, divulgador e teórico de uma nova estética industrial à de projectista , as suas capacidades de gestão de grandes projectos públicos à defesa da reforma do ensino artístico.
Cole foi igualmente fotógrafo, o que dadas as condições técnicas da época, comprova a irrequietude laborosa, intelectual e estética do homem. Fotografar na década de cinquenta de oitocentos era um acto quase heróico, que envolvia o fabrico dos suportes e das emulsões, o carregamento de câmaras de madeira pesadas, e o confronto com um enorme grau de incerteza relativamente ao resultado final.
Mas a relação de Henry Cole com a Fotografia não se esgota no seu exercício pessoal da técnica. Eventualmente, este será até um aspecto algo secundário.
Quando na sequência da Grande Exposição de Londres de 1851 ( a exposição que inaugurará a era das Exposições Universais), que geriu magistralmente e que foi um enorme sucesso popular e comercial, lhe foi facultado um fundo para a criação de uma colecção com os objectos mais notáveis que aí foram expostos, e com outros que fossem projectados com igual qualidade, Henry Cole inicia um processo que culminará na criação de um novo museu. Este terá alguma dificuldade em se auto-categorizar , fosse de arte aplicada, de arte decorativa, de arte industrial, e talvez por isso acabará designado como o Museu de South Kensington, e mais tarde, em 1899, adquirirá o actual nome de Victoria & Albert Museum .
Será aí, na qualidade de director, que realizará um acto fundador (mais um). Numa altura em que a Fotografia estava longe de, unanimemente, ver ser-lhe concedido o acesso ao estatuto de Arte, Henry cole entenderá que num museu que patrocina a nova estética que resulta do cruzamento de Arte, do utilitário e da indústria, fazia todo o sentido incorporar a Fotografia nesse panteão. E, numa altura em alguns museus tinham um relação profundamente conflituosa com a Fotografia (como era o caso das colecções Florentinas, que sob a direcção de Michele Arcangiolo Migliarini, excluíam inclusivamente qualquer possibilidade de registo fotográfico das suas peças), iniciará a partir de 1856 a primeira colecção fotográfica pública com a aquisição de trinta imagens da exposicão anual da
Photographic Society of London. Em 1865,adquirirá as primeiras fotografias da mais original praticante da época vitoriana, Julia Margaret Cameron, reforçando a perspectiva autoral e artística da colecção.
Ainda na década de cinquenta de mil e oitocentos, nomeou como fotógrafo oficial do South Kensington Museum Charles Thurston Thompson, que o auxiliara na exposição de 1851 e se tornara entretanto seu cunhado. Este realizará, no âmbito das suas funções, cerca de 10.000 fotografias, quer das peças da colecção, quer da instalação do museu, quer ainda de actividades da instituição. Procederá também a reportagens fotográficas no estrangeiro, nomeadamente em Espanha e Portugal.
 |
Charles Thurston Thompson, Espelho veneziano, 1853
|
Retornando a Henry Cole enquanto fotógrafo, pelo menos parte do seu trabalho encontra-se nas colecções do Victoria &; Albert Museum, depois da sua aquisição em 1987. Infelizmente, as suas fotografias não se encontram acessíveis via internet, pelo que apenas pude ver quatro delas num vídeo de uma conferência de Christopher Frayling no V&A Museum. Se funcionarem como amostra fiável do universo completo do trabalho fotográfico, poder-se-á dizer que não assistia a Cole a mestria técnica de nomes como Julia Margaret Cameron, Charles Lutwige Dodgson ou Henry Peach Robinson. Mas servem as quatro imagens, registos da seu retiro de Elm Cottage, em Shere, Surrey,para vislumbrar o ambiente doméstico, a intimidade de um homem que pretendia reformar o gosto dos vitorianos.
Com o pseudónimo de Felix Summerly, desenhara na década de trinta e quarenta diversos objectos que entraram em produção, nomeadamente um muito bem sucedido serviço de chá, da Minton, e de 1849 a 1852 edita, conjuntamente com Richard Redgrave, o The Journal of Design and Manufactures, periódico onde se pugnará pela criação de uma estética mais apropriada à era industrial, mais racional, e pela crítica da profusão formal e o abuso decorativo, dominantes à época e degenerados a partir da matriz rococó e barroca. Estes factos farão com que o historiador da arquitectura e do design Nikolaus Pevsner, no incontornável
Pioneers of Modern Design, coloque Cole na categoria de precursores do movimento moderno, e que daí decorra alguma ilusão que difunde abusivamente a imagem do inglês como um modernista antes do tempo (o que nada tem a ver com que Pevsner escreveu, há que esclarecer!).
Henry Cole era um homem do seu tempo, e a observação dos seus objectos, e do que faz publicar no The Journal of Design and Manufactures, não permitem quaisquer veleidades de o pensar envolvido em conjecturas estéticas minimalistas, em ambientes de planos uniformes de cores primárias, ou algo do género.
A sua linhagem estética assenta mais numa depuração de referências clássicas, e numa defesa de padrões geometrizados e vegetalistas ( próxima do movimento arts&Crafts de William Morris), do que em cenários fantasiosos de um modernismo
avant-la-lettre. As quatro imagens que Christopher Frayling apresentou na conferência referida, mostram-nos claramente isso.
As três imagens da sala de desenho confirmam-nos que Cole partilhava algo típico dos vitorianos, algo que podemos definir como o “horror ao vazio”, demonstrando uma divisão profusamente coberta de decoração e de quadros. Onde estes espaços se distinguem de outros casos mais comuns do universo vitoriano, especialmente no caso da imagem de um quarto, é sobretudo na cobertura da parede, que aos papéis de parede exuberantes, berrantes, de padrões complexos, amiúde de vegetação realista e de animais, maioritários nos interiores oitocentistas, contrapõe um padrão abstracto, geométrico, que permite uma maior sensação de espaço e uma leveza incomuns à época.
 |
Henry Cole, as filhas Mary, Letitia e Henrietta
na sala de desenho ,
Surrey, 1856
|
 |
Henry Cole, Sala de desenho,
Surrey,1856
|
 |
Henry Cole, Sala de desenho,
Surrey,1856
Prova parcialmente colorida com aguarela
|
 |
Henry Cole, A filha Mary Charlotte Cole
num quarto de Elm Cottage,
Surrey, 1856
|
Tal como as fotografias de Charles Thurston Thompson registam as colecções e a fase inicial do South Kensingthon Museum, estas fotografias de Henry Cole são documentos incontornáveis da verdade da sua estética.
___________________________________________________________